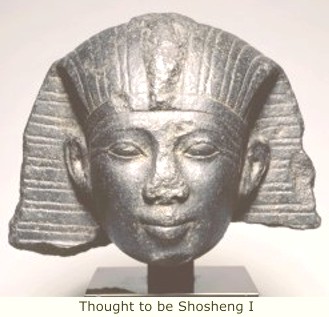Do século X ao VII a.C., o Egito foi governado por uma série de faraós de ascendência líbia. Os líbios eram, até então, inimigos dos egípcios, com conflitos que remontavam ao terceiro milênio a.C. No entanto, no início do século X a.C., o primeiro de uma longa série de faraós de ascendência líbia ascendeu ao trono egípcio.
Embora os primeiros faraós líbios pareçam ter mantido a tradição de um Estado egípcio unitário, com o passar do tempo, as ideias líbias de controle descentralizado tornaram-se mais prevalentes. Como resultado, encontramos indivíduos com títulos líbios e egípcios controlando territórios distintos ao redor do Egito, alguns dos quais assumiram os nomes e títulos de um faraó. Conflitos às vezes acompanhavam esse processo, com uma longa guerra civil travada pelo controle do sul do Egito e da grande capital religiosa de Tebas. Algum grau de controle central foi imposto com o advento de um novo conjunto de governantes da Núbia durante o século VIII, mas um único Estado egípcio só seria restaurado em meados do século VII.
Hoje, exploraremos alguns aspectos da história dessa era frequentemente ignorada da história egípcia, incluindo a maneira como os protagonistas foram redescobertos por historiadores e arqueólogos modernos.
Até o fim do Novo Império, os egípcios viam os líbios e todos os estrangeiros com o desdém habitual. Para os nativos naturalmente superiores do Vale do Nilo, esses povos tribais peludos e emplumados vindos de além do Saara eram, na melhor das hipóteses, mercenários e, na pior, bárbaros vis. Menos de uma geração depois, os mesmos líbios dificilmente poderiam esperar ser aceitos como governantes legítimos do Egito, mesmo que agora detivessem todos os níveis de poder. A solução para o dilema dos líbios residia, como sempre, na aplicação sutil da teologia. Não foi por acaso que, em Djanet e Tebas, os templos foram colocados no coração simbólico do domínio líbio. O grande templo de Amon-Rá em Ipetsut havia sido o epicentro religioso da monarquia do Novo Império. Ao replicar o templo na capital do norte, Djanet, Nesbanebdjedet e seus sucessores estavam perseguindo uma agenda muito deliberada, uma tentativa de obter a sanção divina para seu regime estrangeiro, colocando o deus supremo no ápice da sociedade. Convenientemente, eles poderiam apresentar sua política como uma continuação do “renascimento” de Ramsés XI, levando o Egito de volta ao seu estado original no início dos tempos, quando os deuses governavam a Terra. Mas, na prática, representou uma ruptura decisiva com os modos de governo do Novo Império. A autoridade política suprema estava agora explicitamente investida no próprio Amon-Rá. Em templos e em papiros, o nome do deus era escrito em um cartucho real. Um documento dizia que Amon-Rá era “rei duplo; rei dos deuses; senhor do céu, da terra, das águas e das montanhas”. 4 Em relevos de templos, Amon era
às vezes representado no lugar do soberano, oferecendo-se a si mesmo ou a outras divindades, e era amplamente chamado de verdadeiro rei do Egito. O efêmero sucessor de Nesbanebdjedet, Amenemnisu, foi um passo além, anunciando em seu próprio nome que “Amon é rei”. Era uma afirmação extraordinária.
Se o deus era monarca, então o rei era efetivamente reduzido ao status de seu
primeiro servo. Em Djanet, Pasebakhaenniut I adotou o apelido de “sumo sacerdote de Amon” como um de seus títulos reais, inclusive incluindo-o em um cartucho como alternativa ao seu nome de trono. Em Tebas, seu meio-irmão Menkheperra (1033-990) era o sumo sacerdote de Amon, mesmo que seu verdadeiro poder viesse da espada e não do incensário. Essa forma teocrática de governo resolveu efetivamente dois problemas ao mesmo tempo. Tornou teologicamente possível ter mais de um “governante” mortal ao mesmo tempo, já que Amon era o único rei verdadeiro.
E ajudou a tornar o governo líbio mais palatável para a população nativa, especialmente em Tebas e no Alto Egito, onde egípcios piedosos ainda dominavam.
Na realidade, a teocracia era um truque conveniente, uma folha de parreira para encobrir a realidade embaraçosa de uma monarquia fragmentada. Mas era importante manter a ficção, então os oráculos se tornaram um instrumento regular da política governamental. Tanto em Djanet quanto em Tebas, o deus Amon realizava audiências e emitia decretos, como qualquer monarca humano. Na capital do sul, essa tendência culminou no estabelecimento de uma cerimônia regular, o Belo Festival da Audiência Divina, no qual o oráculo de Amon se pronunciava sobre diversos assuntos de Estado. É claro que as pessoas que mais se beneficiaram desse novo tipo de administração, além dos próprios governantes líbios, foram os sacerdotes que administravam e interpretavam os oráculos. Vivendo com considerável luxo no recinto sagrado de Ipetsut, eles se serviam enquanto serviam ao seu mestre divino. Sua devoção tanto a mamon quanto a deus veio à tona de forma particularmente marcante durante o pontificado de Pinedjem II (985-960). Uma disputa acirrada eclodiu em Ipetsut entre as duas classes de sacerdotes — os “servos de deus” e os “puros” — sobre o acesso às receitas do templo.

Os Servos do Deus, como os mais velhos dos dois grupos, guardavam zelosamente seu acesso especial ao santuário interno, o Santo dos Santos, que era vedado a mortais comuns. Esse privilégio trazia consigo o acesso às oferendas de comida, bebida e outras mercadorias que eram colocadas diante da estátua de culto de Amon durante o ofício diário do templo. Uma vez que o Deus “terminava” com elas, essas oferendas eram rotineiramente recolhidas e redistribuídas aos Servos de Deus”, um pequeno bônus agradável. Em contraste, os “puros” não tinham permissão para entrar no santuário; em vez disso, eram empregados para realizar tarefas auxiliares nas partes externas do templo. Uma dessas tarefas envolvia carregar a barca de Amon quando ela saía do santuário para participar de procissões, tanto dentro do recinto do templo quanto além das muralhas, pelas ruas de Tebas. Antigamente, esse papel de carregador teria passado despercebido. Mas agora, com os oráculos divinos ocupando o centro do palco nos assuntos de Estado, os movimentos sutis da barca de Amon, enquanto era carregada pela cidade, eram imbuídos de enorme significado. Uma estocada repentina, uma inclinação fugaz — tudo isso podia ser interpretado como indicações da vontade de Deus, com repercussões para o sacerdócio, o reino tebano e todo o Egito. Os humildes carregadores reconheciam que o destino de toda a nação repousava, literalmente, sobre seus ombros, e não hesitaram em transformar essa influência em vantagem econômica. Sua demanda por uma fatia maior do bolo os colocou em conflito direto com os servos do deus. Uma nova realidade política havia se intrometido em antigos privilégios. Tão grande era a riqueza material do sacerdócio de Amon, especialmente em Tebas, que a classe dominante líbia usava todos os meios à sua disposição para garantir cargos lucrativos no templo. Esposas e filhas desempenhavam um papel particularmente proeminente, ajudando a garantir o poder econômico e político de seu clã, candidatando-se a posições de prestígio na hierarquia sacerdotal. Em poucas gerações, o cargo de “esposa do deus de Amon” passou a eclipsar até mesmo o próprio sumo sacerdócio. Embora os governantes de Tebas pós-Ramssida se autodenominassem sumos sacerdotes de Amon e alegassem receber ordens da divindade suprema, a verdadeira base para sua autoridade política era a força bruta. O poder do exército, não a sanção divina, sustentava seu regime. Herihor e seus sucessores eram estrategistas experientes o suficiente para perceber que o poder coercitivo era a ferramenta mais eficaz de governo. Assim, desde o início, eles se empenharam em reforçar sua ditadura militar com a arquitetura da opressão, uma série de instalações fortificadas por todo o Alto Egito. Os elos iniciais
desta cadeia foram cinco fortes no trecho norte do Vale do Nilo — fortes que, ironicamente,
foram construídos pelos faraós raméssidas para manter os líbios fora do Egito. Ao final
do reinado de Ramsés XI, esses fortes caíram nas mãos dos líbios, para serem usados como
trampolim para a tomada de todo o país. Eles permitiram que os novos homens fortes do Egito
monitorassem o tráfego do Nilo e esmagassem quaisquer insurreições locais de forma rápida e implacável. Não
é de se admirar que o governo dos generais tenha sido estabelecido com pouca resistência antes que o último
Ramsés esfriasse em seu túmulo.
O principal forte do norte era Tawedjay (atual el-Hiba), que
comandava a margem leste do Nilo, logo ao sul da entrada do Faium. Este
marcava a fronteira norte do reino tebano e era a residência principal dos
comandantes do exército e sumos sacerdotes. É revelador que, a partir de Paiankh, os generais
que governavam Tebas visitassem a grande cidade apenas em dias festivos e feriados, preferindo a
segurança de seu bunker ao norte ao palácio urbano cercado por assentamentos nativos.
Talvez eles tenham percebido o quão impopular seu governo era entre a população de mentalidade tradicional
do sul.
As tensões latentes no Alto Egito explodiram logo no início, em um momento de
fraqueza para o regime militar. Quando Pinedjem I se elevou ao trono,
nomeou seu filho mais velho, Masaharta, para sucedê-lo como sumo sacerdote de Amon. Para alguém
com um nome tão abertamente líbio, estar à frente do sacerdócio de Amon deve ter sido uma afronta para muitos egípcios, mas eles não tinham escolha. No entanto, quando Masaharta
morreu repentinamente no cargo em 1044, a população tebana viu sua chance e explodiu em
revolta. O sucessor de Masaharta, seu irmão mais novo, Djedkhonsuiuefankh, foi forçado a deixar
o cargo após o mais breve dos mandatos. (Para os céticos, sua rápida queda em desgraça
teria provado a falta de confiabilidade dos oráculos divinos. Apesar de ter um nome que significava “Khonsu disse que viverá”, Djedkhonsuiuefankh teve seu destino selado por forças bem mais humanas.)
Por um momento, parecia que o Alto Egito poderia reafirmar sua independência, mas
os comandantes do exército não iriam desistir sem lutar. Da segurança de
Tawedjay, Pinedjem imediatamente proclamou seu terceiro filho, Menkheperra, sumo sacerdote e o enviou para o sul “com bravura e força para pacificar a terra e subjugar seu inimigo”. 5 Com o apoio total do exército, Menkheperra reprimiu a revolta e reafirmou a
autoridade de sua família sobre Tebas. Os líderes da rebelião foram presos e
banidos para os oásis do Deserto Ocidental, com suas sentenças de morte comutadas para exílio interno, talvez para evitar alimentar ainda mais ressentimento entre a população local. Somente após um intervalo de alguns anos, com as chamas da resistência bem e verdadeiramente apagadas, os exilados foram autorizados a retornar. No entanto, Menkheperra manteve o direito de executar quaisquer futuros conspiradores que ameaçassem sua própria vida. Para reforçar a mensagem, ele ordenou a construção de uma nova série de fortalezas muito mais perto de Tebas, em locais estratégicos nas margens leste e oeste. Como os castelos normandos da Inglaterra, as fortalezas líbias dominavam o Vale do Nilo, um lembrete diário aos nativos de que agora eram um povo súdito em sua própria terra. Por toda a extensão do país, assentamentos civis também foram fortificados. Os egípcios estavam se cercando de muros altos para impedir a entrada de um inimigo cada vez mais assustador.
Dinastia XXII
| faraó | Nomes alternativos | Reinado (a.C.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shoshenq I | Sheshonq I, Sheshonk I | 943–922 |
| 2 | Osorkon I | 922–887 | |
| 3 | Shoshenq II | Seshonque II, Seshonque II | |
| 4 | Shoshenq IIb | Sheshonq IIb, Sheshonk IIb | |
| 5 | Takelot I | 885–872 | |
| 6 | Osorkon II | 872–837 | |
| 7 | Shoshenq III | Seshonque III, Seshonque III | 837–798 |
| 8 | Shoshenq IV | 798–785 | |
| 9 | Pami | 785–778 | |
| 10 | Shoshenq V | Sheshonq V, Sheshonk V | 778–740 |
| 11 | Pedubast II | ||
| 12 | Osorkon IV | Dinastia XXIII | 740–720
|
| # | faraó | Nomes alternativos | Reinado (a.C.) |
| 1 | Takelot II | 840–815 | |
| 2 | Pedubast I | 829–804 | |
| 3 | Saída I | 829–804 | |
| 4 | Shoshenq VI | Anteriormente conhecido como Shoshenq IV | 804–798 |
| 5 | Osorkon III | 798–769 | |
| 6 | Takelot III | 774–759 | |
| 7 | Rudamun | RudamonDinastia XXIV | 759–755
|
| # | faraó | Nomes alternativos | Reinado (a.C.) |
| 1 | Tafnakht | ||
| 2 | Bakenrenef |
A SEPARAÇÃO DAS DUAS TERRAS EM SUAS PARTES CONSTITUINTES.
pode ter sido a nova realidade política, mas era um anátema para a ideologia egípcia tradicional, que enfatizava o papel unificador do
rei e apresentava a divisão como o triunfo do caos. Como os hicsos haviam demonstrado cinco séculos antes, o peso e a antiguidade das crenças faraônicas tendiam a vencer no
final. E, à medida que a elite líbia se tornava mais entrincheirada, mais segura no exercício do poder, algo curioso aconteceu. Em certos aspectos importantes, ela começou a se tornar nativa.
Foi em Tebas, coração da ortodoxia faraônica, que os primeiros sinais de um retorno
aos antigos costumes se manifestaram. Após o “reinado” de Pinedjem I (1063-1033),
os sumos sacerdotes subsequentes evitaram títulos reais, datando seus monumentos dos
reinados dos reis de Djanet. Não que homens como Menkheperra, Nesbanebdjedet II e Pinedjem II fossem menos autoritários ou implacáveis que seus predecessores, mas estavam dispostos a reconhecer a autoridade suprema de um único monarca. Essa foi uma mudança importante, ainda que sutil, na filosofia predominante. Reabriu a possibilidade de reunificação política em algum momento no futuro. Esse momento ocorreu em meados do século X. Perto do fim do reinado de Pasebakhaenniut II (960-950), o controle de Tebas havia sido delegado a um carismático e ambicioso chefe líbio de Bast, um homem chamado Shoshenq. Como “grande chefe dos chefes”, ele parece ter sido a personalidade mais influente nos círculos da corte. Além disso, ao casar seu filho com a filha mais velha de Pasebakhaenniut, Shoshenq reforçou suas conexões com a família real. Seus cálculos deram resultado. Após a morte de Pasebakhaenniut, Shoshenq estava em posição ideal para assumir o trono. A ascensão do chefe marcou não apenas o início de uma nova dinastia (considerada a Vigésima Segunda), mas o início de uma nova era. Desde o início, Shoshenq I (945-925) agiu para centralizar o poder, restabelecer a autoridade política do rei e devolver o Egito a uma forma tradicional de governo (Novo Império). Rompendo com a prática recente, os oráculos deixaram de ser usados como um instrumento regular da política governamental. A palavra do rei sempre fora a lei, e Shoshenq sentia-se perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões sem a ajuda de Amon. Somente na distante Núbia, no grande templo de Amon-Rá em Napata, a instituição do oráculo divino sobreviveu em sua forma mais plena (com consequências a longo prazo para a história do Vale do Nilo). Apesar de seu nome e origem abertamente líbios, Shoshenq I ainda era o governante incontestado de todo o Egito. Além disso, ele tinha um método prático para impor sua vontade
sobre o sul de mentalidade tradicional e conter a recente tendência à independência
tebana. Ao nomear seu próprio filho como sumo sacerdote de Amon e comandante do exército, ele garantiu a lealdade absoluta do Alto Egito. Outros membros da família real e apoiadores da dinastia foram igualmente nomeados para cargos importantes em todo o
país, e os figurões locais foram incentivados a se casar com membros da casa real para consolidar sua lealdade.
Quando o terceiro profeta de Amon se casou com a filha de Shoshenq, o rei sabia que tinha o sacerdócio tebano de fato em seu bolso. Era como nos velhos tempos. Para demonstrar sua recém-descoberta supremacia, Shoshenq consultou os arquivos e voltou sua atenção para as atividades tradicionalmente esperadas de um rei egípcio. Ele ordenou a reabertura de pedreiras e sentou-se com seus arquitetos para planejar ambiciosos projetos de construção. Embora ordenasse novas remoções de faraós do Novo Império de seus túmulos no Vale dos Reis, ele, no entanto, se esforçou para se apresentar como um governante piedoso e buscou ativamente oportunidades para fazer doações aos grandes templos do Egito. Pela primeira vez em mais de um século, belos relevos foram esculpidos nas paredes dos templos para registrar as conquistas do monarca — mesmo que o monarca em questão não tivesse vergonha de sua ascendência líbia. Apesar de toda a piedade e propaganda, da arte e da arquitetura,
Shoshenq sabia que ainda faltava um elemento. Antigamente, nenhum faraó
digno do título teria ficado de braços cruzados enquanto o poder e a influência do Egito declinavam no cenário mundial. Todos os grandes governantes do Novo Império haviam sido reis guerreiros, prontos a qualquer momento para
defender os interesses do Egito e estender suas fronteiras. Era hora de tal
ação novamente. Hora de reacender a política externa imperialista do país, há muito adormecida.
Hora de mostrar ao resto do Oriente Próximo que o Egito ainda estava no jogo.
Um incidente de fronteira em 925 forneceu a desculpa perfeita. Com um poderoso exército de guerreiros líbios, complementado — como sempre — por mercenários núbios, Shoshenq marchou de sua capital no delta para reafirmar a autoridade egípcia. De acordo com as fontes bíblicas,1 também havia uma política de poder obscura em jogo, com o Egito provocando problemas entre as potências do Oriente Próximo e consentindo, se não encorajando ativamente, a divisão do outrora poderoso reino de Israel, de Salomão, em dois territórios mutuamente hostis. Seja qual for o contexto preciso, após esmagar os homens das tribos semitas que haviam se infiltrado no Egito na área dos Lagos Amargos, as forças de Shoshenq seguiram direto para Gaza, o tradicional ponto de parada para campanhas contra o Oriente Próximo. Tendo capturado a cidade, o rei dividiu seu exército em quatro divisões (com ecos distantes das quatro divisões de Ramsés II em Cades). Ele enviou uma força de ataque para sudeste, no deserto do Negev, para tomar a fortaleza estrategicamente importante de Sharuhen. Outra coluna seguiu para o leste, em direção aos assentamentos de Berseba e Arade, enquanto um terceiro contingente avançou para nordeste, em direção a Hebrom e às cidades fortificadas nas colinas de Judá. O exército principal, liderado
pelo próprio rei, continuou para o norte ao longo da estrada costeira antes de se voltar para o interior para atacar Judá pelo norte.
De acordo com os cronistas bíblicos, Shoshenq “tomou as cidades fortificadas de Judá
e chegou até Jerusalém”.² Curiosamente, a capital judaica está notavelmente ausente
da lista de conquistas que Shoshenq havia gravado nas muralhas de Ipetsut para
comemorar sua campanha, mas é possível que ele tenha aceitado o dinheiro de proteção
sem invadir as muralhas. O lamento da cidade — de que “ele levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei; ele levou embora tudo”³ — pode
de fato ser um reflexo fiel dos eventos.
Com Judá completamente subjugada, o exército egípcio continuou seu devastador
avanço pelo Oriente Próximo. O próximo alvo era o reino remanescente de Israel, com sua nova capital em Siquém — local de uma famosa vitória de Senuseret III quase um milênio antes. Outras localidades também ecoaram ao longo dos séculos, à medida que os egípcios conquistavam Bete-Seã (uma das bases estratégicas de Ramsés II), Taanaque e, finalmente, Megido, cenário da grande vitória de Tutmés III em 1458. Determinado a garantir seu lugar na história e provar que era igual aos grandes faraós guerreiros da Décima Oitava Dinastia, Shoshenq ordenou que uma inscrição comemorativa fosse erguida dentro da fortaleza de Megido. Tendo assim garantido uma vitória esmagadora, ele liderou seu exército novamente para o sul, via Aruna e Yehem, até Gaza, a passagem de fronteira em Ráfia (atual Rafá), os Caminhos de Hórus e seu lar. Uma vez em segurança de volta ao Egito, Shoshenq cumpriu as expectativas da tradição ao
encomendar uma nova e imponente extensão para o templo de Ipetsut, com seu portal monumental decorado com cenas de seu triunfo militar. O rei é mostrado derrotando seus inimigos asiáticos enquanto o deus supremo Amon e a personificação da vitoriosa Tebas observam com aprovação.
No entanto, se todo esse empunhar de espadas e agitar de bandeiras deveria inaugurar uma nova era de poder faraônico, o Egito ficaria profundamente decepcionado. Antes que a obra em Ipetsut pudesse ser concluída, Shoshenq I morreu repentinamente. Sem seu patrono real, o projeto foi abandonado e os cinzéis dos operários silenciaram. Pior ainda, os sucessores de Shoshenq demonstraram uma lamentável pobreza de aspirações. Eles retornaram com muita facilidade ao modelo anterior de
governo laissez-faire e se contentaram com políticas limitadas por horizontes políticos e geográficos. O renascimento temporário do Egito no cenário mundial fora um falso amanhecer. A autoridade renovada do país no Oriente Próximo desapareceu tão rapidamente quanto havia sido estabelecida. E, longe de se deixar intimidar pela breve demonstração de autoridade real de Shoshenq I, Tebas ficou cada vez mais frustrada com o governo do delta. O espectro da desunião rondava as ruas da cidade mais uma vez.
BIBLIOGRAFIA :
Wilkinson, Toby A. H – The rise and fall of ancient Egypt . Bloomsbury Publishing, Plc. London, UK 2010.
https://pharaoh.se/ancient-egypt/period/third-intermediate-period/
Third Intermediate Period of Ancient Egypt
Assmann, Jan – The Mind of Egypt : History and Meaning in the time of Pharaohs. Metropolitan Books , New York – USA 1996
Clayton, Peter A. – Chronicles of the Pharaohs. Thames & Hudson Ltd. 1994
Johnson, Paul – The Civilization of Ancient Egypt – Weydenfeld & Nicolson, London 1978